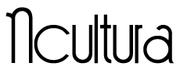D. João IV foi aclamado rei e a coroa foi entregue à Casa de Bragança até 1910. Como é que esta linhagem conquistou influência? Quem foram os Braganças?
Qualquer curioso pela História Europeia, por mais distraído ou mais surdo que seja, já ouviu falar da progressiva erosão do feudalismo ao longo da Idade Moderna. Por processos mais naturais nuns casos, mais impostos noutros, por vezes pela secagem de uma árvore genealógica outrora frutuosa, outras vezes pela atracão da corte, muito mais apetecível do que longas extensões de terra estéril; certo é que, por umas causas ou por outras, a modernidade vai sepultando com os anos o senhor feudal.
O guerreiro refina ou degenera em cortesão, o senhor prefere os serões palacianos à solidão rural, a convivência entre pares ao temor entre os súbditos, e o rei suspira de alívio por ter os seus nobres entretidos em bulhas de precedências e não em guerras de independência.
As grandes casas feudais da Idade Média, quase autónomas, os ducados quase reinos, como o da Borgonha, e os reinos quase condados, como o de Pamplona, perderam a batalha contra o tempo. Das grandes casas senhoriais emergem enormes cortes, presas às capitais, ajoujadas de netos dos condes e marqueses de antanho, que viviam armados nos seus territórios.
Como explica Norbert Elias no seu A sociedade de Corte, a Idade Moderna é, já não o tempo das conquistas, mas do controlo dos seus danos. Os reis têm de corrigir a liberalidade dos seus pais, recuperar as terras entregues aos seus marechais mais valorosos, sob pena de reinarem sobre um território hipotecado àqueles que lho conquistaram.
Poucas famílias resistiram, assim, ao aliciamento régio, à tentação de, com as crises agrícolas, escambarem os seus territórios pelo dinheiro da coroa, de trocar a independência feudal pelo prestígio da corte; dessas poucas, menos ainda contaram com a ajuda divina para enfrentar pela biologia os diversos tipos de lei mental, ou com força Humana para a ignorar.
De uma Europa Medieval ladrilhada em incontáveis condados e senhorios, reinos e ducados, sobram talvez duas casas – fora as reinantes – com um modelo quase medieval. Significativamente, as duas em que pensamos – Bragança e Sabóia – venceram a guerra em que pareciam ser apenas os resistentes obstinados.
Uma casa portuguesa
Que terá levado, numa Europa que parecia represar todo o poder senhorial fora das casas reinantes, uma casa a aguentar expulsões e descréditos, perdas de bens e de herdeiros, e a conseguir ainda alçar um dos seus a Rei de Portugal? Como é que o sainete feudal, algo arrogante, se perpetra numa família capaz de enfrentar Reis e príncipes, quando todas as outras vão adormecendo os antigos leões rampantes das suas armas e encostando o seu sustento à gamela real?
Como é que uma casa como a de Bragança consegue, contra todas as tendências do seu tempo, não só resistir à secundarização da nobreza, como passar de uma casa importantíssima, sim, a uma casa reinante?

De facto, a Casa de Bragança nunca foi uma casa como as outras. Podemos até dizer que, desde a sua génese, tem certas pretensões de se equiparar à casa real.
Esta pretensão, no entanto, é contrabalançada por outra origem fortíssima, com outras pretensões, sempre cultivada e lembrada pela Casa. Os dois pólos, que vão alternadamente compassando a orientação da política brigantina e lhe dão uma certa originalidade, podem destrinçar-se quase desde a sua fundação.
A Casa de Bragança é, antes de mais, tanto na origem como na importância, a casa de Nun’Álvares. Diz Mafalda Soares da Cunha – a mais importante historiadora dos Braganças não reinantes – que D. João I, sempre grato ao Condestável que lhe ganhou o sólio à espada, lhe ofereceu o próprio príncipe herdeiro para noivo da sua filha.
Nuno Álvares Pereira, contudo, empenhado em fundar a sua própria casa, recusou. Casar a filha com o futuro rei seria afogar a sua linhagem no prestígio da Dinastia Real; para que o legado de Nun’Álvares esteasse sempre a casa era necessário um noivo com uma identidade genealógica menos marcada. Por outro lado, quem senão o Rei e os seus herdeiros estariam à altura do Condestável; do, na altura, único Conde do Reino, daquele a quem o rei prometera que, enquanto ele vivesse, a mais nenhum entregaria um condado?
Fora dos Infantes, Nun’Álvares era o único à sua altura. Para a sua filha, todos no reino seriam de menos, só os príncipes seriam demais. Daí que D. Afonso, o bastardo régio, filho do rei mas não da rainha, nem infante nem sem sê-lo, parecesse a melhor opção.

A ideia, ao que parece, terá agradado a D. Nuno; tanto que desobrigou o Rei da promessa que lhe fizera, para poder dotar o genro com largas partes do seu património colossal, incluindo o condado de Barcelos. Fez-se, assim, de D. Afonso Conde de Barcelos e um dos homens mais ricos do reino, com vasta extensão de terra e privilégios no Norte do país.
D. Nuno terá tido, em matéria familiar, a visão e a sorte que também lhe valeram na guerra; isto porque, com o restante do seu património, tomou uma decisão que em muito beneficiou, nos anos seguintes, a Casa dos seus herdeiros. Do matrimónio entre o bastardo régio e a filha do Condestável nasceram três filhos: dois rapazes, Afonso e Fernando, e uma rapariga, Isabel.
Ora, quando D. Nuno impôs o hábito carmelita, testou de uma forma já pouco comum para a época: em vez de concentrar a herança na filha ou, quanto muito, no neto primogénito, distribuiu-a pelos três netos. Para o ramo principal da Casa, dada a imensidão do seu património, a divisão não lesava por aí além; aos filhos segundos, porém, permitia um poder e alianças matrimoniais muito acima do que os secundogénitos podiam, em circunstâncias normais, ambicionar.
Retirado o Condestável da vida política, parcelados os seus títulos, de tal maneira que, além do seu genro Conde de Barcelos, ficavam os seus netos, por ordem de primogenitura, Conde de Ourém e Conde de Arraiolos, ficava a sua Casa na posse de três dos quatro condados do reino (o outro pertencia a D. Pedro de Meneses).
Garantia assim à casa um protagonismo único na vida do reino, comprovado até pelos casamentos nas gerações seguintes: em duas gerações, já a casa de Nun’Álvares tinha alianças com a velha nobreza do Reino, com filhas herdeiras dos novos titulados que aumentavam o património familiar e com a própria casa real. Legitimava, assim, a sua posição no seio da Nobreza – que tanto valeria aos Braganças em Alfarrobeira –, aproximava-se da casa Real e consolidava o património.
As divisões
Se a visão de Nun’Álvares valeu a todo o clã, e não apenas ao primogénito, uma teia de alianças que noutras condições levaria mais tempo a tecer, o azar valeu às gerações posteriores. É que da divisão do património resultaria, naturalmente, o risco da perda de poder e de influência. Ora, o Conde de Ourém morreu sem descendência, o que reconcentrou pelo menos grande parte do património nas mãos do Conde de Arraiolos, futuro Duque de Bragança.
Este fenómeno será, aliás, um dos elementos para o aumento paulatino do poderio da Casa; como única excepção do Reino à Lei Mental, a falta de descendência não representava para a brigantina, como para as outras famílias, a perda de património para as mãos do rei, mas um retornar do património disperso ao tronco principal.
Por muito que a marca identitária levasse a família a agir no seu próprio interesse e como um autêntico clã, isto só seria possível sem grande dispersão dos vários ramos. A centralização do poder permitiu, assim, nas primeiras gerações, repetir a estratégia do Condestável – dotes generosos, que possibilitavam casamentos mais vantajosos – e enodar ainda mais a família, tanto na Nobreza titulada, como nos laços reais.
A casa parecia, assim, encaminhada na senda pretendida pelo herói de Aljubarrota. Esta, no entanto, era curta para as ambições do seu genro. Oliveira Martins, nos Filhos de D. João I, descreve o primeiro Duque de Bragança como um fidalgo à antiga, bruto e chão como os modernos imaginam os medievais, despeitado pela bastardia e por ser sempre preterido na governança aos seus irmãos legítimos.
Insinua – passe o eufemismo – haver no bastardo ambições reais e um projecto de domínio de Portugal que estariam muito para lá das intenções de São Nuno de Santa-Maria. Talvez haja exagero da parte de Oliveira Martins; no entanto, D. Afonso não teve com a sua filha os pruridos que D. Nuno teve com a dele.
Um dos relatos mais conhecidos da sua vida trata precisamente do conflito com o Infante D. Pedro, pois ambos queriam que D. Afonso V casasse com as respectivas filhas, fazendo dos seus netos reis. D. Pedro levou a melhor – e talvez tenha começado, com isso, uma longa animosidade que lhe valeu a morte – mas o Conde de Barcelos ainda conseguiu reforçar a ligação familiar com a dinastia reinante. Não casou D. Isabel com D. Afonso, mas casou-a com D. João, infante e filho, como o próprio Conde de Barcelos, de D. João I.
As pretensões de D. Afonso, no entanto, não se esgotam com o casamento. O período da regência de D. Pedro foi, provavelmente, aquele em que as primeiras gerações de Braganças mais uso fizeram do seu poder.
Com D. Pedro na regência, D. Henrique dedicado à expansão, D. Fernando preso e D. João prestes a seguir o destino de D. Duarte, D. Afonso já não é apenas o herdeiro de Nun’Álvares, mas um dos poucos filhos restantes de D. João I. Numa época marcada, como já se referiu, pelas consequências da lei mental e pela tentativa régia de recuperação de poder face aos nobres, D. Afonso é uma espécie de cavalo de Tróia lançado pela Nobreza ao suserano.
Enquanto o seu filho segundo, o Conde de Arraiolos, navegou confortavelmente no Conselho de D. Duarte e aderiu depois com gosto e brilho à aventura expansionista; enquanto o Conde de Ourém, até à disputa sobre quem herda do Infante D. João o cargo de Condestável, é partidário de D. Pedro, o Conde de Barcelos opõe-se-lhe desde sempre. Primeiro pela Rainha velha contra o Duque de Coimbra, depois por quem fosse contra o filósofo-regente.
Não valerá a pena esmoer todo o conflito que levou a Alfarrobeira; basta apenas mencionar que, no confronto entre os dois, ganhou o Duque de Bragança. Ganhou a velha Nobreza, sim, mas sobretudo o velho Duque, com mais privilégios, mais terras e o poder reforçado.
Estes ganhos continuaram até depois da morte do velho Duque, com D. Fernando, seu filho, Conde de Arraiolos e segundo Duque, a ser feito por D. Afonso V Marquês de Vila Viçosa. O Ducado de D. Fernando, porém, parece não ter aproveitado a sanha do seu pai no assalto ao poder.
De facto, D. Fernando ganha prestígio, mas sempre como um aliado importante de D. Afonso V. Os seus irmãos acrescentam os condados de Faro e Odemira e um sem-fim de senhorios à alçada brigantina, mas não renovam os conflitos com a coroa.
Próximos do fim
Só no reinado de D. João II é que as animosidades voltam a surgir, maiores que nunca. Até hoje é difícil dizer de que lado estava a razão. A fazer fé nos cronistas da Restauração, o Príncipe Perfeito ainda estará a purgar a injustiça nas antecâmaras do Céu.
A fazer fé em D. João II, o seu primo D. Fernando II de Bragança conspirava (ou melhor, deixava a sua família conspirar) com espanhóis contra o Rei de Portugal. As acusações são fortes de lado a lado, D. Álvaro de Bragança acusa o rei de preconceito contra a Casa dos Duques, outros acusá-lo-iam de Maquiavelismo se já o houvesse, suspeitando de que o Rei apenas queria agarrar uma oportunidade para conter o poderio dos Braganças.
Desta vez, no confronto, levou a melhor a coroa: D. Fernando II foi executado em 1483 e todos os bens da casa, seus e dos seus irmãos, foram confiscados. Parecia o fim da Casa, que pagava com curta vida a longa ambição dos seus chefes.
O herdeiro D. Jaime, ainda criança, criava-se em Espanha, banido do reino, na corte dos reis seus parentes; não lhe valiam terras nem senhorios, confiscados, mas valeu-lhe – com demora de alguns anos, é certo – a sempre tão cuidada política de alianças da família e a famosa crise do Reino.

De facto, a ventura de D. Manuel, partilhou-a ele com D. Jaime, o malogrado Duque de Bragança. É conhecida a sucessão de acasos que levou D. Manuel, filho segundo do Duque de Viseu, a Rei de Portugal. O príncipe herdeiro, D. Afonso, morreu antes do pai – D. João II -; este ainda tentou coroar o seu filho bastardo, mas a vontade contrária da Rainha, vinda da Casa de Viseu, prevaleceu.
Ora, D. Manuel era filho de D. Fernando, irmão de D. Afonso V, que por sua vez casara com D. Beatriz, filha do Infante D. João e de D. Isabel, o tal casamento por que, falhada a aliança com D. Afonso V, o primeiro duque de Bragança tanto pugnara. Esta circunstância tornava D. Jaime não apenas primo do Rei, mas também o seu parente mais próximo e, antes do nascimento de um filho do Monarca, herdeiro do trono de Portugal.
Foi nesta circunstância que D. Manuel reabilitou o Duque, devolveu-lhe as terras e privilégios da família e permitiu que ele fosse jurado herdeiro do trono quando não tinha ainda descendentes. A vida atribulada de D. Jaime fez dele o herói romântico português por excelência. Figura mais que glosada no poemário nacional – D. Jaime, de Tomaz Ribeiro, é apenas o caso mais conhecido – é, de facto, uma personagem peculiar.
O começo, de Duque desgraçado a herdeiro reerguido, não sobressalta quem observa o resto da sua vida. Homem de paixões fortes, quis abandonar a vida mundana para se fazer monge, matou a mulher num veio de cólera por suspeita de traição e expiou o crime numa expedição Africana que pagou do seu bolso.
Estas peripécias sempre deliciaram os românticos, atraídos por este homem de paixões súbitas, inversões drásticas no destino, desgraçado pelo matrimónio e penitente patriótico. D. Jaime, porém, ultrapassa este retrato de fidalgo das Arábias; o regresso do Duque a Portugal marca definitivamente a entrada numa nova era para a casa de Bragança.

O prestígio de Nun’Álvares, a aura de benfeitor que entregou o reino ao rei, estão cada vez mais longínquos – podem ser invocados como memória histórica prestigiante, mas já não pairam como uma ameaça;
D. Manuel, além disso, inverte a relação de forças: para as novas gerações, foi o Rei quem reabilitou o ducado, já não a Casa que conquistou o reino; salvo contingências improváveis no que diz respeito à sucessão, a dinastia está consolidada, pelo que a ambição reinante, se a houvesse, seria mais difícil de concretizar; as relações com o Rei parecem assim pacificar, com os Braganças confortáveis com o seu estatuto excepcional, que faz dela a primeira entre as casas nobres, que vale aos seus primogénitos regências ocasionais do reino e aos seus herdeiros casamentos excepcionais por essa Europa fora.
A casa parecia cristalizar neste estatuto, e a própria acalmia política permite revelar outros aspectos da personalidade dos Duques.
Os heróis e os desafios
D. Jaime torna-se uma figura central, não só para a aura romântica dos Braganças, mas até para a simbologia futura da família. É com D. Jaime que se começa a construir o grande bastião brigantino, o ex-libris monumental da Casa, o Paço Ducal de Vila Viçosa.
Foi neste mesmo paço que as gerações seguintes, durante o tempo dos Filipes, organizaram uma espécie de corte paralela; de Vila Viçosa é que os duques saíam com um aparato de quatrocentos homens, só comparável às entradas régias mais opulentas; foi à tapada de Vila Viçosa que Lope de Vega chamou a mais bela da Península; mas foi, sobretudo, em Vila Viçosa que se criou uma vida cultural – a que os duques não eram alheios – única no país.

D. Jaime já teve, em Espanha, uma educação cuidada, assumidamente voltada para as artes e para as letras; o seu filho, D. Teodósio I, também a teve e melhor a aproveitou. A sua biblioteca, colossal para a época (estudada por Ana Isabel Buescu), tem vários livros em voga pela Europa fora, sinal das relações e contactos que a sereníssima casa mantinha não só com os meios políticos, mas também intelectuais europeus; os professores dos príncipes, vindos por vezes de Itália ou de Espanha, passavam directamente de Vila Viçosa para as Universidades ou vice-versa, o que atesta a importância dada pelos duques à educação intelectual; os abundantes estudos sobre o paço, desde a sua majólica italiana ao coro da capela, dão conta da forma como a Casa de Bragança ia aliando ao prestígio político – ainda D. João I de Bragança casou com D. Catarina, neta do rei D. Manuel – o prestígio intelectual.
Assim poderia continuar, de facto, se a grande crise de 1580 não abalasse também os herdeiros de Nun’Álvares. De facto, a tomada do poder pelos Filipes provocou alterações imprevistas nos destinos da Casa de Bragança.
O sucesso do fim do século XVI trouxe-lhes, por um lado, mais prestígio interno – afinal, tornavam-se praticamente os únicos opositores legítimos ao domínio filipino – por outro crescentes dificuldades na manutenção do nível da casa. O ducado sempre tinha, realmente, casado como uma autêntica família real; fazia-o, no entanto – como bem nota Mafalda Soares da Cunha – por ser difícil destrinçá-la da verdadeira família real.
Até ao domínio filipino é difícil perceber o que é de facto prestígio da Casa de Bragança e o que é apenas fruto da sua proximidade com os Reis de Portugal. Afastada a ligação, a casa perde também prestígio. Isso vê-se, aliás, no casamento de D. Teodósio II.
É certo que o Rei de Espanha lhe vetou dois casamentos, um para não fazer de um Bragança seu cunhado, outro para não aumentar o poderio territorial da casa; é certo também que isto prova que o rei espanhol tinha a sereníssima casa como uma potencial fonte de tumulto; é impossível, no entanto, não notar a diferença entre o casamento do seu pai – com uma neta de um rei – e o seu casamento; ou mesmo entre as primeiras tentativas de D. Catarina casar o filho, sempre em casas reais, e o casamento conseguido, com Ana de Velasco.
Maus ventos de Espanha
Os Filipes contiveram, aqui se vê, as vias tradicionais de consolidação de poder dos Braganças; nem permitiam o aumento das terras, nem casamentos de prestígio real; os seus privilégios tradicionais, como o direito de conferir Nobreza, foram pisados mais do que uma vez; as pretensões reinantes dos Braganças puderam assim – tanto pelo despeito, como pela oportunidade – ir ressuscitando.
Nem D. Catarina, depois de viúva, voltou a casar para o seu filho D. Teodósio não perder o direito ao trono de Portugal, nem D. Teodósio aceitava títulos dos Filipes com o argumento de já “sobejarem” na sua casa títulos dados pelos antepassados que ele e o rei tinham em comum. Renascia, assim, a velha pretensão brigantina, a velha ambição (a fazer fé em Oliveira Martins) de D. Afonso I e o desafio ao rei.
D. Teodósio não foi – apesar de tudo, os seus meios não o permitiriam – um opositor declarado do domínio Filipino. Conseguimos, no entanto, detectar sinais das suas pretensões. Teodósio II não foi – longe disso –um duque cortesão. A biografia feita por D. Francisco Manuel de Melo relata as suas aparições em Lisboa, desleixado, como quem mostra que despreza a corte.
Ora, este pormenor pode bem ser a sinédoque da sua política. D. Teodósio não podia enfrentar o rei, mas podia, passe o exagero, ignorá-lo; num tempo em que a corte seguia o rei, D. Teodósio criou a sua própria corte em Vila Viçosa.

Segundo Manuel Inácio Pestana, Vila Viçosa funcionou mesmo como um Estado dentro do Estado; tinha aparato régio, privilégios e direitos quase reinantes, de tal forma que, privado da possibilidade de aumentar os seus domínios, D. Teodósio decidiu melhorá-los e fazer deles uma espécie de corte paralela.
Não deixou ao seu filho, D. João II de Bragança, IV de Portugal, um reino; deixou, porém, uma capital. D. João tinha corte, paço e terras, o sangue dos Pereiras e dos reis de Portugal, o apoio de D. Antão de Almada e da restante conjura. O resto é a história deste dia, de Portugal e já não apenas dos Braganças.
Carlos Maria Bobone, licenciado em Filosofia.